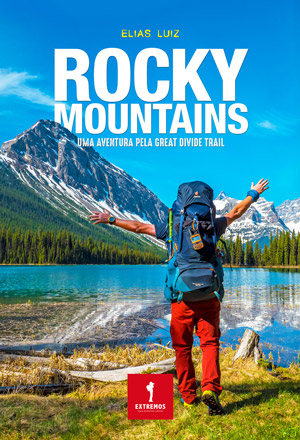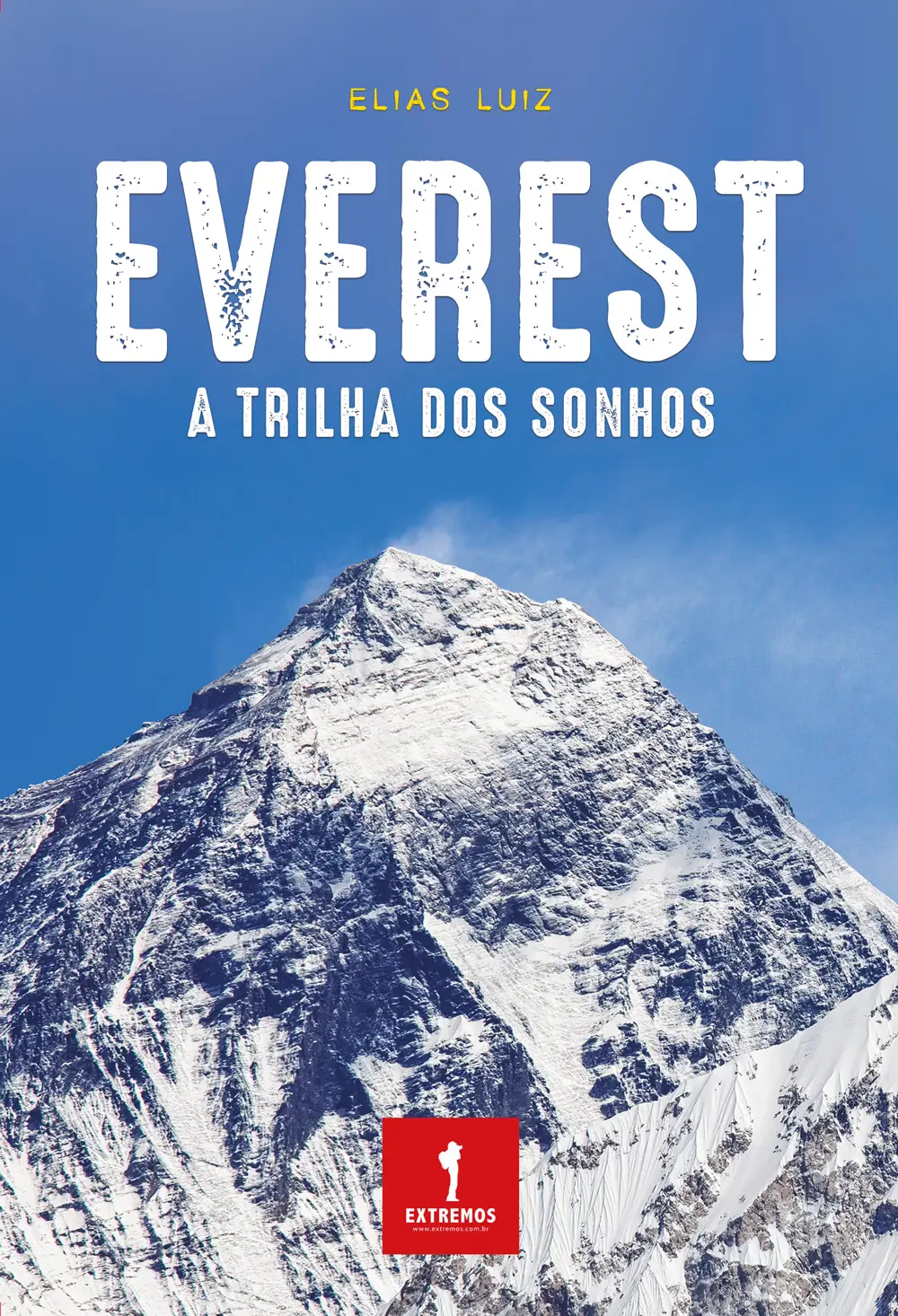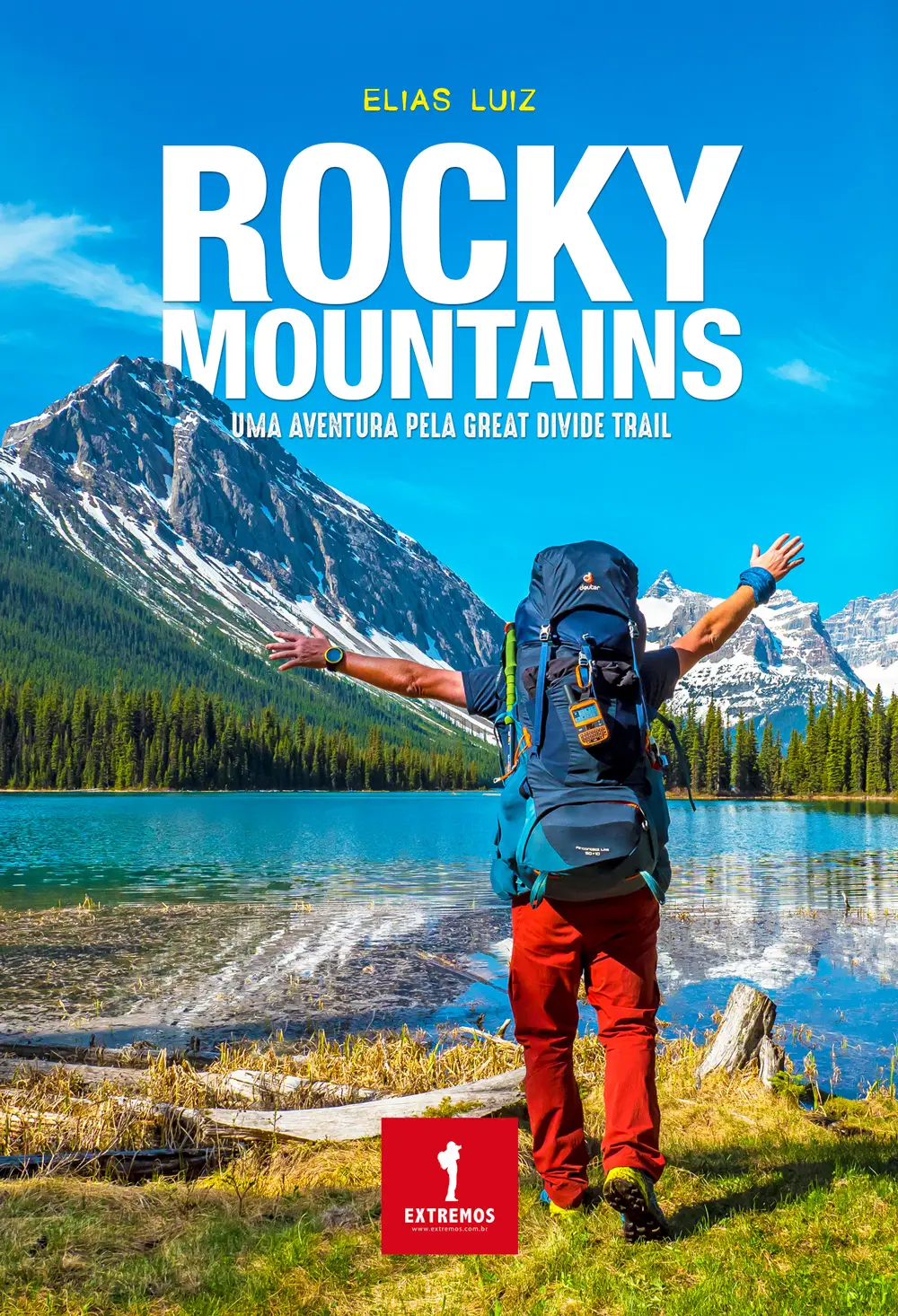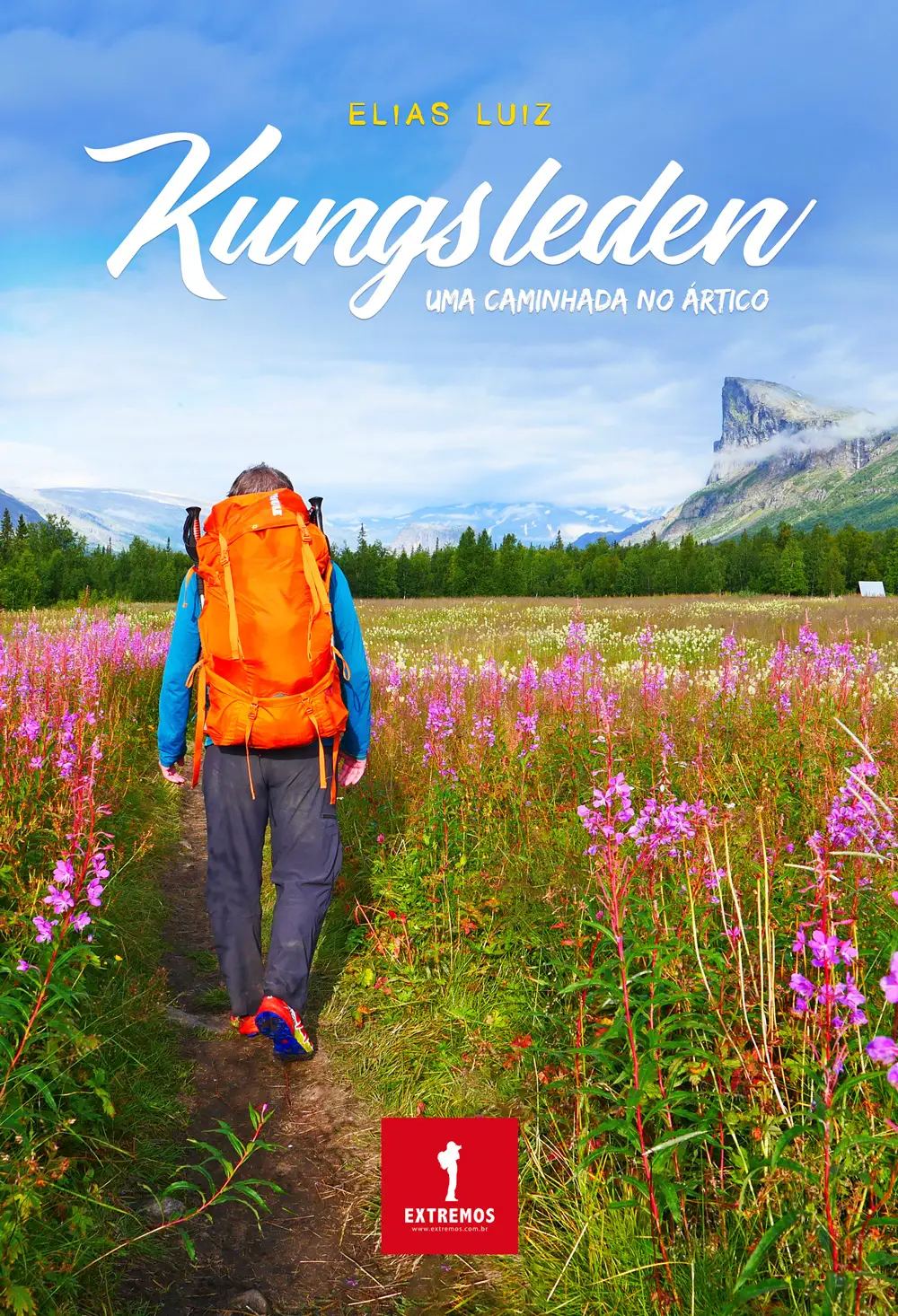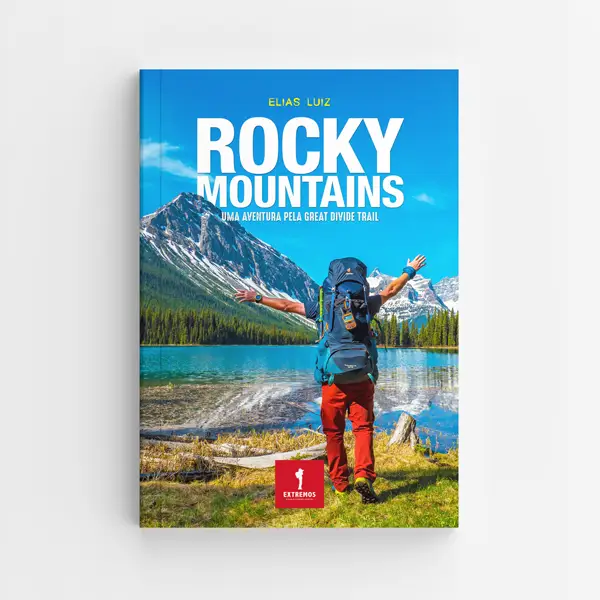A Arte de Ver o Invisível: da Janela de um Táxi à Janela de um Trem
Há alguns dias, ao rever Teoria da Conspiração, algo que sempre esteve ali, mas que eu nunca havia percebido com tanta clareza, finalmente saltou aos meus olhos.
Há cenas no cinema que passam despercebidas pela maioria, mas que, quando observadas com atenção, revelam uma delicadeza que ultrapassa a própria narrativa. Esse filme guarda uma delas — e só agora, tantos anos depois, compreendi sua sutileza.
A genialidade dessa sequência está em um detalhe ainda mais discreto, quase invisível, que só se revela quando olhamos com calma e deixamos a cena respirar diante de nós.
Nquele momento, não há trilha sonora. A cena é seca, crua, quase desconfortável. Jerry está ali no escuro, dentro do táxi, observando pela janela uma mulher que não sabe que está sendo vista. Qualquer música colocada ali pelo diretor soaria invasiva, forçada, melodramática.
Então surge a solução mais sutil e elegante possível: a música vem dela.
Alice canta Can’t Take My Eyes Off You baixinho, dentro do apartamento, enquanto caminha na esteira — não como parte da dramaturgia. O filme, produzido nos anos 1990, usa essa escolha com maestria, porque naquela época era natural imaginar que ela estivesse ouvindo a rádio.
Jerry, ao perceber que ela está cantando, gira lentamente o dial até encontrar a mesma estação. Não para descobrir o que ela ouve — isso é irrelevante. O que importa é participar da mesma vibração, do mesmo instante. Ele sintoniza a música como quem tenta sintonizar um sentimento. A trilha sonora não entra porque o roteirista decidiu. Ela entra porque o personagem buscou.
É cinema transformando necessidade técnica em emoção.
A música nasce dentro da cena, cresce organicamente, e se transforma em trilha sentimental, conectando dois personagens.
Essa delicadeza narrativa — a música chegar sem ser imposta, a trilha brotar da vida cotidiana — é uma daquelas soluções que só funcionam quando o diretor entende profundamente a linguagem da época e a usa a favor da história.
São essas sutilezas que tento levar para os meus livros — e, no meu caso, isso se torna ainda mais desafiador. Em um filme de ficção, basta criatividade e técnica para inserir detalhes a qualquer momento. Mas em uma narrativa de não ficção, dependo do acaso para transformar informações que seriam técnicas e frias em algo vivo. E, como sempre digo, quando você tira a bunda do sofá, as coisas começam a acontecer. Foi exatamente isso que me permitiu aproveitar o que vivi no trem entre Genebra e Vaduz para incorporar essas informações com naturalidade. Não era apenas um deslocamento geográfico. Era a chance de ver a Suíça como Jerry observa Alice: sem pressa, sem objetivo, sem filtro — apenas observando vidas que se tocam por alguns minutos e nunca mais.
No meu quarto capítulo, usei o trem como o diretor usa o táxi de Jerry: um espaço de passagem onde as informações surgem naturalmente, sem parecer explicação. Não precisei anunciar que Berna é a capital — bastou ver o casal francês descer ali, deixando a cidade ocupar seu papel na narrativa com a mesma leveza de quem apenas muda de vagão. O mesmo aconteceu com os idiomas: o francês macio do casal, o alemão firme da jovem que entrou logo depois, e até o silêncio concentrado dela enquanto lia Sturmzeit, um livro que por si só carrega metade do século XX alemão. A própria demografia linguística do país se apresentou diante de mim como gente de verdade, não como gráfico.
Até a matriz energética encontrou seu momento orgânico. Quando a torre de resfriamento da usina de Gösgen surgiu pela janela — enorme, estranhamente bela, quase cartunesca — ela abriu espaço para falar de energia nuclear, hidrelétrica e renováveis sem que o texto perdesse ritmo. Assim como a troca de trens em Zurique, o ônibus esperando no ponto certo em Sargans, ou a integração impecável de todo o sistema de transporte, nada disso foi explicado; tudo foi vivido. Em não ficção, eu dependo desse tipo de acaso: o trem me entrega a usina, o livro entrega a história, o casal entrega o idioma, e a viagem segue sem que eu precise interromper o fluxo para ensinar nada.
Foi assim que o trem se tornou a porta perfeita para apresentar o país: capital, línguas, energia, literatura, arquitetura e até a eficiência suíça não vieram como tópicos separados, mas como personagens secundários que entraram, sentaram-se por alguns minutos e desceram na estação seguinte. Tudo aconteceu diante de mim como em um plano sequência — sem cortes, sem intervenções, sem necessidade de explicar o que já estava ali, ao alcance dos meus olhos.
E, se você ainda não assistiu a esse clássico dos anos 1990, aproveite: está no HBO Max. E, já que falamos de jornadas, se ainda não garantiu o meu novo livro Via Alpina, agora é o momento: a pré-venda já está no ar.